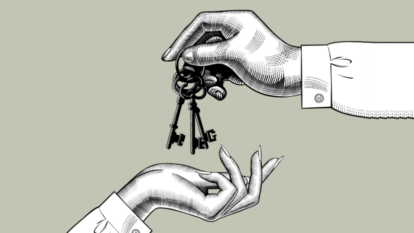SANTA BARBARA, Califórnia – Nos últimos dias, vivi aqui uma experiência difícil de classificar. O Zeitgeist não é exatamente uma conferência, nem um retiro, tampouco um festival de ideias.
É uma espécie de lente coletiva sobre o tempo.
Ali, entre cientistas, CEOs, empreendedores, jornalistas, políticos e criadores, o que se busca não é prever o futuro, mas medir a velocidade com que ele chega.
Idealizado pelo Google, o Zeitgeist é um encontro intimista que reúne pouquíssimos líderes globais e visionários para se conectarem e compartilharem inspiração, numa busca para entender o espírito do tempo no qual vivemos, como propõe o conceito por trás do nome.
Philipp Schindler, o chief business officer do Google, abriu a conferência com uma provocação que se tornaria a direção da conversa: “Não olhe para o futuro analisando o passado, mas pela taxa de mudança do presente.”
Essa frase — simples e quase matemática — define o novo tipo de alfabetização exigida de quem quer entender o mundo. O passado já não é referência. O eixo se deslocou do que “vem depois” para “como as coisas se transformam enquanto olhamos para elas”.
No campo da geopolítica do conhecimento, Condoleezza Rice, a ex-Secretária de Estado, foi direta ao dizer que acabou a convergência entre Oriente e Ocidente que marcou os últimos trinta anos.
Democratas, republicanos, empreendedores e cientistas concordam em algo, o que é raro: os valores que o Ocidente passou décadas exportando para o Oriente já não encontram mais eco do outro lado do mundo. Essa ponderação, dita sem ênfase, ressoou como diagnóstico. No debate entre Walter Isaacson e a ex-Secretária de Estado, a conclusão é: há uma nova linguagem global. O mundo pós-convergência é menos um mapa e mais um campo elétrico — instável, invisível, interconectado.
Neste contexto, diante da proximidade de capacidade tecnológica entre Oriente e Ocidente, a inteligência artificial passa a ser uma questão de segurança nacional.
A ela se acoplam a computação quântica, a energia de fusão nuclear, robótica, biotecnologia e a inteligência artificial geral (AGI). Estamos em um novo patamar de agilidade, de entrega e de solução. Um mundo no qual as relações de poder mudam se você não for detentor da tecnologia. As reações em torno do DeepSeek exemplificam exatamente isso. Seu anúncio foi uma mensagem ao Ocidente: a China chegou para disputar a hegemonia no campo da AI.
Nas rodas, formou-se um consenso pragmático: ninguém pode mais ser contra a inovação. É a era da inevitabilidade tecnológica. Jennifer Doudna, vencedora do Nobel, apresentou um retrato impressionante da fronteira entre biologia e dados. O projeto AlphaFold decifra o desdobramento de proteínas com precisão atômica. O CRISPR edita o DNA com a naturalidade de quem edita um texto. “Há doenças incuráveis que já estão sendo desmontadas,” disse Doudna. Teoria? Não! Realidade que já está impactando pessoas.
Para aqueles que têm medo da IA se tornar algo aterrorizante, o professor Eric Topol disse: “A AI não sabe o que é empatia, mas sabe canalizá-la.” Em outras palavras, estamos entrando em uma era em que o humano se reconhece no não-humano — e o laboratório se torna extensão da consciência.
Sundar Pichai, o CEO do Google, chamou este momento de “quantum exuberance”. Para ele, a estrutura do Google já é uma pilha onde AI, computação quântica e robótica se fundem em um mesmo motor de aprendizado.
Não se trata de informação, mas de afirmação — máquinas que não apenas dizem o que é, e sim sugerem o que deve ser. Em outro tempo, isso seria filosofia. Hoje é produto próximo de escala comercial.
E, num daqueles momentos em que as coincidências são tão perfeitas que a realidade parece falsa, chega a notícia no meio de um papo: o Nobel de Física acabara de ser anunciado, e dois cientistas do Google estavam entre os agraciados por sua pesquisa sobre física quântica.
Tekedra Mawakana, o co-CEO da Waymo, trouxe ao palco uma visão que vai além da tecnologia de direção autônoma; falou sobre “confiança” como infraestrutura essencial da inovação.
Segundo ela, “ganhar confiança é prioridade”, e a adoção em larga escala dos veículos autônomos não virá da imponência dos algoritmos, mas da clareza de seus casos de uso cotidianos, especialmente aqueles que fazem as pessoas — e, como ela destacou, as mulheres — sentirem-se seguras.
Em uma das passagens mais provocadoras, Tekedra observou que um carro autônomo pode, às vezes, “quebrar a lei para fazer a coisa certa”, revelando o dilema ético de ensinar máquinas a tomar decisões morais em ambientes humanos.
Sua fala uniu pragmatismo e filosofia: no fundo, ela sugeriu que o desafio da AI não é técnico, mas emocional — ensinar a tecnologia a merecer confiança antes de pedir adoção.
Saindo desse momento mágico, entramos, novamente, no colapso das certezas. A política – debatida por Joe Manchin, Dana Bash e Scott Jennings – parece um eco distante dessa revolução. Eles representam três vértices de um mesmo triângulo: política, mídia e narrativa.
Cada um à sua maneira encarna um pedaço do dilema americano contemporâneo, mas existia uma convicção de todos: é difícil ter um propósito comum quando a realidade não é comum aos cidadãos.
A frase soa banal, porém contém o dilema central do Ocidente: como governar um mundo que compartilha riqueza cada dia de forma mais desigual? Juntos, eles formam um retrato nítido do colapso das certezas: a política transformada em performance, a mídia tentando recuperar a credibilidade, e a sociedade americana oscilando entre nostalgia e descrença. O diálogo entre os três não foi um debate — foi uma tentativa de reaprender a conversar.
Tim Urban, um pensador contemporâneo raro que combina a clareza de um engenheiro com a curiosidade existencial de um filósofo e o humor de um comediante stand-up, projetou na tela desenhos de guindastes e casas sendo demolidas para explicar como as tribos digitais substituíram a democracia da razão pela engenharia do ressentimento.
A plateia ria — e em seguida ficava em silêncio.
No papo mais técnico estavam Mohamed El-Erian, o ex-CEO da Pimco e economista-chefe da Allianz, e Michael Spence, um Nobel de Economia.
Ambos falaram com a serenidade de quem sabe o tamanho do abismo. Spence lembrou que estamos reescrevendo o mundo com duas moedas simultâneas: o enfraquecimento do dólar e a inteligência artificial.
El-Erian alertou que vivemos um período de exuberância racional em que avanços em AI, robótica, energia de fusão nuclear, biotecnologia e computação quântica produzirão ganhos permanentes de produtividade, bem como turbulências econômicas imprevisíveis.
Não estamos em uma bolha, mas não quer dizer que não teremos turbulências grandes. A mensagem dos dois: não subestime o longo prazo e não superestime o curto. O Zeitgeist econômico é paradoxal: o mesmo avanço que gera produtividade também destrói estabilidade durante a transição. Como disse Spence, “a produtividade vai subir, no entanto o mundo talvez se torne emocionalmente mais instável.”
No primeiro dia do Zeitgeist, fizemos uma (incrível) visita ao Google Quantum AI Lab, em Santa Bárbara. É como entrar em uma dobra do tempo. Lá, conversei com uma dezena de cientistas que estão literalmente construindo o que pode se tornar o próximo marco da humanidade: o computador quântico funcional.
As conversas fugiam do tom de ficção científica; eram técnicas, rigorosas, de quem fala sobre engenharia com a mesma reverência que se fala sobre música. Cada peça do sistema, do criostato ao chip, é desenhada com precisão quase estética: física, matemática e design se encontram no mesmo milímetro.
Diante dos equipamentos, o ar tinha uma gravidade própria. Vi o ponto onde o universo é forçado à sua fronteira térmica — temperaturas mais frias do que as do espaço interestelar — para que os qubits possam existir. É uma contradição fascinante: alcançar o máximo do poder computacional ao reduzir o mundo à mínima vibração possível. Ali, a humanidade parece estar aprendendo a conversar com o próprio tempo.
Depois de três dias de conversas, dilemas e provocações, Sahil Bloom, um pensador da vida prática com alma de investidor e linguagem de um contador de histórias, trouxe uma lembrança desconcertante: “Pare de buscar e reconheça que os bons velhos dias da sua vida estão acontecendo agora.”
Era um convite à presença — a ideia de que, em meio à aceleração, o único luxo real é o tempo vivido com atenção.
Bloom falava sobre as cinco formas de riqueza — tempo, saúde, relações, propósito e dinheiro — e lembrava que a mais escassa delas não pode ser comprada. Sahil Bloom é a voz do capitalismo emocional: alguém que entendeu que, no século XXI, produtividade sem propósito é apenas uma forma mais cara de vazio.
Entre os grandes nomes da política, da ciência e da tecnologia global, eu era o único empreendedor de tecnologia brasileiro. Essa constatação — simples, mas simbólica — me acompanhou durante todos os dias. Enquanto o mundo discute o computador quântico e a fusão de biotecnologia com energia limpa, o Brasil ainda parece distraído com debates que pertencem a uma era analógica. Não é sobre copiar o Vale do Silício. É sobre não ficar fora do mapa mental do futuro.
O Zeitgeist 2025 me deixou com a sensação de que o mundo não está mais dividido entre otimistas e pessimistas, mas entre os que entendem o ritmo das mudanças e os que ainda buscam explicações antigas para fenômenos novos.
Saí de lá com duas convicções. O futuro não será linear, mas exponencial — e a verdadeira vantagem competitiva será nossa adaptabilidade. A inteligência artificial, a computação quântica, a fusão nuclear, a robótica e a biotecnologia não são tecnologias: são novas gramáticas da civilização.
Diego Barreto é o CEO do iFood.